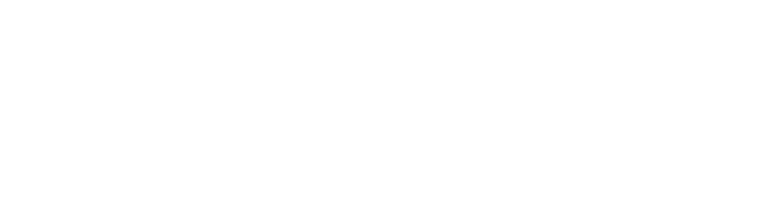Correção de distorções é um dever ético e cívico
A rede Magazine Luiza anunciou no mês passado a abertura de inscrições para seu programa de trainees com a indicação de que, desta feita, só aceitaria candidatos negros. Algo de uma justiça óbvia para quem se dedica a conhecer os números e a história da negritude tupiniquim. Mas foi o quanto bastou para, nestes tempos estranhos de extremismos e intolerância, explodir a mais surrealista polêmica em todas as agências noticiosas do país.
Sob as luzes da ribalta, uma vez mais, o debate sobre o racismo estrutural e as necessárias políticas públicas e corporativas de inclusão social. Não há qualquer dúvida razoável, sustentável em qualquer espaço (acadêmico, político ou judicial), quanto ao fato de que o Brasil é um dos países mais desiguais e injustos do planeta. Também é indene de dúvidas o fato de que, nos quase 200 anos de Brasil, tais iniquidades vitimaram especialmente a população negra e "parda" (com o perdão da expressão, há décadas consagrada nas estatísticas do IBGE).
Basta lembrar que a escravidão no Brasil foi abolida em 1888, muito menos pela "indulgência" de uma princesa a que pessoalmente teria poucas condições de confrontar o establishment e muito mais por uma confluência de fatores bem menos românticos: as pressões diplomáticas da Inglaterra, os ruidosos movimentos abolicionistas e as crescentes reações da população oprimida. A abolição, porém, foi antes uma capitulação do que uma redenção. Foi necessária outra metade de século para que a legislação começasse a infletir, ao menos simbolicamente, o recorte cultural racista da sociedade brasileira: a Lei Afonso Arinos, de 1951, convolou o preconceito de raça em contravenção penal (ou seja, um "crime anão", na célebre fórmula de Nelson Hungria).
Outro meio século se passou para que finalmente, em 1989, a Lei Alberto de Oliveira Lei Caó tipificasse o racismo como crime (lei nº 7.716, artigos 3º a 20). Cem anos depois da "abolição", negar o atendimento em uma loja ou impedir o acesso a transportes públicos por discriminação ou preconceito de raça passou a ser crime, punido com dois a cinco anos de prisão (artigos 5º e 12). Essa "presteza" legislativa sugere uma sociedade que repulsava o preconceito racial? Negar que os negros foram historicamente discriminados ou compará-los acriticamente a outros grupos não alijados estruturalmente é nada menos que uma bofetada no mundo da vida.
A magistratura nacional bem sabe disso. Não por outra razão, em 2015, o CNJ (Conselho Nacional de Justiça) reservou 20% das vagas em concursos públicos para juízes a candidatos negros. Não por outro motivo, em 2017, o STF declarou constitucional a lei 12.990/2014, que reservou aos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal. Não por outra causa, enfim, a magistratura do Trabalho aprovou, em plenária de 2004, tese segundo a qual "deve constituir luta da magistratura o combate a todas as formas de discriminação nas relações de trabalho, (...) discutindo e apoiando políticas públicas votadas para a (re)inserção desses trabalhadores ao mundo do trabalho", notadamente em favor de negros, mulheres e idosos.
E criar um programa de trainees restrito a negros é praticar "racismo reverso" contra os brancos? Poderíamos responder a isto com outra pergunta: o quão comum terá sido, nos últimos cem anos, negar-se a um branco, por ser branco, o acesso a comércios ou transportes públicos? O racismo estrutural deita raízes nas profundezas da cultura escravista nacional. É um fenômeno social de aspersão coletiva, a que não se podem comparar atos pessoais e isolados de intolerância, ainda se existentes. E a correção histórica dessas distorções é um dever ético e cívico do poder público, das empresas e dos concidadãos. Mas sem sofismas, por favor.
Não se abrem guarda-chuvas por segundos de orvalho.
Guilherme Feliciano* é Juiz titular da 1ª Vara do Trabalho de Taubaté (SP), é professor da Faculdade de Direito da USP e ex-presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra) no biênio 2017-19
Germano Siqueira** Juiz titular da 3ª Vara do Trabalho de Fortaleza, é ex-presidente da Anamatra no biênio 2015-17